Moacyr Scliar
Moacyr Scliar foi um famoso autor gaúcho cujas obras fazem parte da literatura brasileira contemporânea. Seus livros apresentam realismo fantástico e temática judaica.
Moacyr Scliar foi um famoso escritor brasileiro. Ele nasceu na cidade de Porto Alegre, no dia 23 de março de 1937. Mais tarde, estudou Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E conciliou a profissão de escritor com a de médico, trabalhando na rede pública de saúde.
O autor, que faleceu em 27 de fevereiro de 2011, em Porto Alegre, é um famoso romancista, contista e cronista da literatura contemporânea brasileira. E suas obras apresentam temas associados à questão judaica e à emigração. Outro elemento recorrente nas narrativas do escritor é o realismo fantástico.
Leia também: Luis Fernando Verissimo — outro autor da literatura contemporânea brasileira
Resumo sobre Moacyr Scliar
-
O autor gaúcho Moacyr Scliar nasceu em 1937 e faleceu em 2011.
-
Além de escritor, também foi médico e professor na Faculdade Católica de Medicina.
-
Scliar é autor de livros que fazem parte da literatura contemporânea brasileira.
-
Suas obras apresentam temática judaica, realismo fantástico e ironia.
Biografia de Moacyr Scliar
Moacyr Scliar nasceu em 23 de março de 1937, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Era filho de imigrantes russo-judaicos. O bairro do Bom Fim, em Porto Alegre, foi onde o autor viveu grande parte de sua infância. Ali também moravam outras famílias judias.
O escritor aprendeu a ler com sua mãe, que era professora. A partir de 1943, estudou na Escola de Educação e Cultura. Já em 1948, foi transferido para o Colégio Rosário. Na adolescência, escreveu os primeiros contos. Em 1952, ingressou no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, e seu conto “O relógio” foi publicado no jornal Correio do Povo.
Em 1955, começou a estudar Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No ano de 1958, participou do Movimento Juvenil Judaico, de ideologia de esquerda. E se formou em 1962, iniciando a residência no ano seguinte. Logo passou a trabalhar como médico da rede pública.
Também foi professor, a partir de 1964, na Faculdade Católica de Medicina. Em 1968, publicou o livro de contos O carnaval dos animais, vencedor do prêmio Academia Mineira de Letras. Em 1969, passou a trabalhar na Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre. Assim, o autor conciliava sua carreira de médico com a de escritor.
No ano de 1970, fez pós-graduação em Israel. Anos depois, em 1984, deu palestras em universidades da Alemanha. Em 1988, recebeu seu primeiro prêmio Jabuti. No ano seguinte, o prêmio Casa de las Américas. A partir dos anos 1990, passou também a participar de eventos literários.
Atuou como professor visitante, em 1993, na Brown University, nos Estados Unidos, mesmo ano em que ganhou seu segundo Jabuti. Em 1999, finalizou seu doutorado em Saúde Pública. No ano seguinte, conseguiu seu terceiro Jabuti, conquistado novamente em 2009. Porém, em janeiro de 2011, sofreu um AVC e faleceu em 27 de fevereiro desse ano, em Porto Alegre.
→ Moacyr Scliar na Academia Brasileira de Letras
Eleito em 31 de julho de 2003, Moacyr Scliar ocupou a cadeira de número 31 da Academia Brasileira de Letras, quando tomou posse em 22 de outubro desse mesmo ano.
Características da obra de Moacyr Scliar
Scliar é um autor da literatura contemporânea brasileira, e suas obras apresentam as seguintes características:
-
temática judaica;
-
reflexões sobre emigração;
-
realismo social;
-
senso de humor;
-
fragmentação;
-
realismo fantástico;
-
lirismo;
-
denúncia da desigualdade e do preconceito;
-
elementos históricos;
-
crítica sociopolítica;
-
oposição entre judaísmo e cristianismo;
-
temática associada à medicina e à saúde pública;
-
consideração de questões éticas;
-
personagens incomuns;
-
elementos alegóricos;
-
caráter irônico.
Obras de Moacyr Scliar
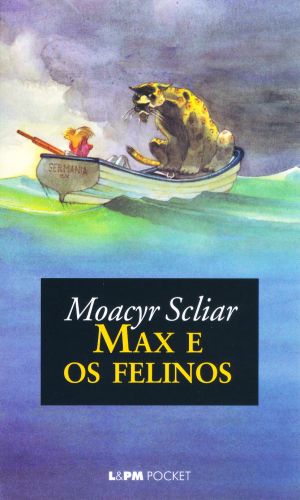
-
O carnaval dos animais (1968) — contos
-
A guerra no Bom Fim (1972) — romance
-
O exército de um homem só (1973) — romance
-
Os deuses de Raquel (1975) — romance
-
O ciclo das águas (1975) — romance
-
A balada do falso Messias (1976) — contos
-
Histórias da terra trêmula (1976) — contos
-
Mês de cães danados (1977) — romance
-
O anão no televisor (1979) — contos
-
Doutor Miragem (1979) — romance
-
Os voluntários (1979) — romance
-
O centauro no jardim (1980) — romance
-
Max e os felinos (1981) — romance
-
Cavalos e obeliscos (1981) — infantojuvenil
-
A festa no castelo (1982) — infantojuvenil
-
A estranha nação de Rafael Mendes (1983) — romance
-
Memórias de um aprendiz de escritor (1984) — infantojuvenil
-
A massagista japonesa (1984) — crônicas
-
O olho enigmático (1986) — contos
-
No caminho dos sonhos (1988) — infantojuvenil
-
O tio que flutuava (1988) — infantojuvenil
-
Os cavalos da República (1989) — infantojuvenil
-
Um país chamado infância (1989) — crônicas
-
Cenas da vida minúscula (1991) — romance
-
Pra você eu conto (1991) — infantojuvenil
-
Sonhos tropicais (1992) — romance
-
Uma história só pra mim (1994) — infantojuvenil
-
Um sonho no caroço do abacate (1995) — infantojuvenil
-
O Rio Grande farroupilha (1995) — infantojuvenil
-
Dicionário do viajante insólito (1995) — crônicas
-
Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar (1996) — crônicas
-
O amante da Madonna (1997) — contos
-
Os contistas (1997) — contos
-
A majestade do Xingu (1997) — romance
-
Histórias para (quase) todos os gostos (1998) — contos
-
Câmera na mão, o guarani no coração (1998) — infantojuvenil
-
A mulher que escreveu a Bíblia (1999) — romance
-
A colina dos suspiros (1999) — infantojuvenil
-
Os leopardos de Kafka (2000) — romance
-
O livro da medicina (2000) — infantojuvenil
-
O mistério da casa verde (2000) — infantojuvenil
-
Ataque do comando P. Q. (2001) — infantojuvenil
-
O imaginário cotidiano (2001) — crônicas
-
Pai e filho, filho e pai (2002) — contos
-
O sertão vai virar mar (2002) — infantojuvenil
-
Aquele estranho colega, o meu pai (2002) — infantojuvenil
-
Éden-Brasil (2002) — infantojuvenil
-
O irmão que veio de longe (2002) — infantojuvenil
-
Nem uma coisa, nem outra (2003) — infantojuvenil
-
Aprendendo a amar e a curar (2003) — infantojuvenil
-
Navio das cores (2003) — infantojuvenil
-
Uma história farroupilha (2004) — romance
-
Na noite do ventre (2005) — romance
-
Ciumento de carteirinha (2006) — romance
-
Os vendilhões do templo (2006) — romance
-
A palavra mágica (2006) — romance
-
Manual da paixão solitária (2008) — romance
-
Livro de todos, o mistério do texto roubado (2008) — infantojuvenil
-
Histórias que os jornais não contam (2009) — contos
-
Eu vos abraço, milhões (2010) — romance
Veja também: Milton Hatoum — outro conhecido escritor da literatura brasileira contemporânea
Crônicas de Moacyr Scliar
Na crônica A poesia das coisas simples, o autor homenageia o cronista Rubem Braga (1913-1990). Assim, ela é um texto metalinguístico, uma crônica cuja temática é a crônica. Além disso, analisa a importância social do jornal, sem perder a oportunidade de fazer crítica sociopolítica:
Todo mundo o conhecia como “o velho Braga”; e isto, acho, desde que ele era jovem jornalista. E já que ele sempre tinha sido “o velho Braga”, esperava-se de Braga que ele ficasse sempre entre nós, mesmo velho. Mas não. Este nefasto ano de 1990 mostrou-se mais forte do que esta, e outras, ilusões, e levou-nos o homem que transformou a crônica, tradicionalmente vista como um gênero menor, numa categoria literária de importância neste país. Há quem julgue o jornal um veículo inadequado para a literatura; o livro, diz-se, tem permanência (mesmo que esta permanência por vezes só beneficie as traças) ao passo que o jornal é um objeto descartável: nada mais velho que o jornal de ontem, uma coisa que só serve para embrulhar peixe (o que, de novo, só era válido quando a saúde pública o permitia — e quando se podia comprar peixe). Braga, porém, nunca acreditou nesta lógica “macluhanesca”. Preferiu seguir o caminho de Machado e de Lima Barreto, e transformou o cotidiano em matéria-prima para um trabalho literário de primeira grandeza. Em “O homem rouco”: “O jornalista profissional Rubem Braga, filho de Francisco de Carvalho Braga, carteira 10836 série 32a, registrado sob o número 785, Livro II, Fls. 193, ergue a fatigada cabeça e inspira com certa força. Neste ar que inspira, entra-lhe pelo peito a vulgar realidade das coisas, e seus olhos já não contemplam sonhos longe, mas apenas um varal com uma camisa e um calção de banho e, ao fundo, o tanque de lavar roupas de seu estreito quintal, desta casa alugada em que ora lhe movem uma ação de despejo”.
Assim era Braga: um homem que tratava as palavras com sensibilidade, com sabedoria e com maestria. [...]
Este homem amável, um pouco retraído, sabia ver poesia nas coisas simples. E a camisa que ficou ondulando ao vento, num varal de quintal, dá agora adeus a um de nossos maiores escritores.
Já na crônica Três casacos e suas histórias, o cronista narra um fato banal, cotidiano, ou seja, a compra de três casacos. Porém, com muita ironia:
Não sei como é para vocês, mas para mim comprar roupas — e por isso faço-o raramente — é sempre uma aventura de resultados imprevisíveis. Estou pensando, por exemplo, em três casacos que comprei, os três nos Estados Unidos (não é esnobismo: é que lá faz frio mesmo e a gente acaba precisando) cada um dos quais daria, senão um romance, pelo menos um conto.
A história do primeiro casaco ocorreu em minha primeira viagem ao país do Tio Sam. Era inverno e já cheguei batendo queixo. O casaco brasileiro simplesmente não me protegia de uma temperatura nova-iorquina de vários graus abaixo de zero. Saí, pois, atrás de um casaco americano. Entrei em várias lojas — nessas horas apossa-se de mim o espírito do indeciso Hamlet, sempre com aquela pergunta do ser ou não ser (no caso, comprar ou não comprar). Finalmente, num pequeno estabelecimento cujo proprietário parecia ter saído do Bom Fim, achei um casaco que me pareceu conveniente. Era quente, era do tamanho certo, era até elegante. Eu já ia pagar quando a maldita dúvida me ocorreu: e se, em alguma outra loja, houvesse um casaco melhor à minha espera? E se eu estava sendo precipitado?
[...]
[...]. O que é um intrigante hábito americano: eles desperdiçam horrores, mas de repente resolvem vender coisas usadas. São capazes de pedir um centavo por uma velha esferográfica e ficarão ali toda a manhã para vendê-la, mas trata-se da ética do capitalismo que não pode ser contrariada. Pois bem, entre as coisas expostas nessa “garage sale”, estava um casaco, um velho casaco de veludo. Experimentei-o: era exatamente do meu tamanho. Paguei os cinco dólares pedidos e saí absolutamente abrigado do frio. Quando cheguei à universidade contei à secretária do departamento o que tinha acontecido. A moça empalideceu: então, eu não sabia que aquilo poderia ser o casaco de um morto?
Não, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Que não me assustou, pelo contrário. Achei-a mais do que justa. Afinal de contas, pelo menos uma vez a morte de um americano beneficiou um brasileiro. Justiça poética ou justiça funerária, o certo é que daí em diante não passei mais frio.
[...]
Ficou perfeito [o terceiro casaco]. Incrível: ficou perfeito. Intrigado, chequei o número. Quarenta. Um quarenta ali extraviado. E que eu tinha apanhado, inteiramente por acaso.
Deus existe. Habitualmente está no céu. Mas eventualmente dá plantão na loja Filene’s. Na seção de casacos.
Créditos de imagem
[1] J. Freitas / Agência Brasil / Wikimedia Commons (reprodução)
[2] Editora L&PM Editores (reprodução)
Fontes
ARRUDA, Angela Maria Pelizer de. O humor em contos de Moacyr Scliar: um representante da ficção contemporânea. Arquivo Maaravi, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, 2012. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/maaravi/article/view/14139.
NEVES, Fábio Luis Silva. Quando é preciso narrar o incomunicável: narração, foco, atmosfera e alegoria em Na minha suja cabeça, o Holocausto, de Moacyr Scliar. Miguilim, v. 6, n. 2, p. 111-130, 2017. Disponível em: http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MigREN/article/view/1350/0.
SCLIAR, Moacyr. A poesia das coisas simples. In: SCLIAR, Moacyr. A poesia das coisas simples. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
SCLIAR, Moacyr. Três casacos e suas histórias. Zero Hora, Porto Alegre, 14 jul. 2002. Disponível em: https://www.moacyrscliar.com/arquivos/cronicas/tres-casacos-e-suas-historias.pdf.
ZILBERMAN, Regina. O escritor. Moacyr Sciliar, c2018. Disponível em: https://www.moacyrscliar.com/sobre/o-escritor/.
Por Warley Souza
Professor de Literatura
Fonte: Brasil Escola - https://brasilescola.uol.com.br/literatura/moacyr-scliar.htm